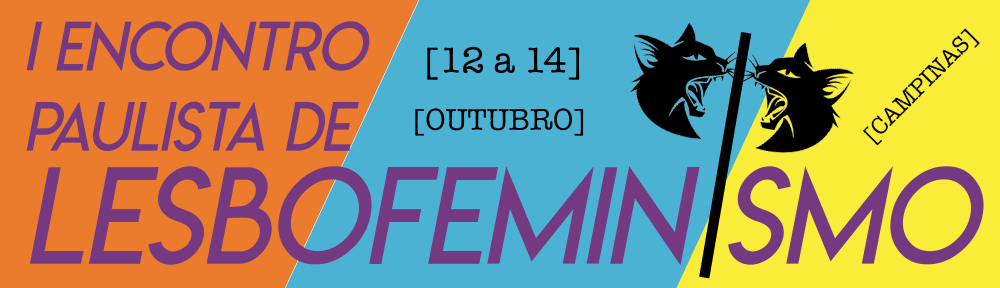Esta é uma tradução que compõe uma série de três textos elaborados pela ekipa organizadora do X Encontro Lésbico-Feminista de Abya Ayla (X ELFAY, Bogotá, Colômbia, 2014), cujo objetivo era nortear as reflexões das participantes sobre os três eixos centrais daquele Encontro. Para mais informações sobre os ELFAY, veja o documento de memórias elaborado pelas compas da Colômbia: http://glefas.org/download/biblioteca/lesbianismo-feminista/memoria-x-elfay-colombia-2014-v.pdf
———————————–
Sub-eixo 1: As políticas neoliberais e neocoloniais e o regime heterossexual
Por Celenis Rodriguez e Yuderkis Espinosa Miñoso
Introdução
Para muitas lésbicas feministas radicais, desde sempre foi importante pensar e definir a heterossexualidade como um sistema ou regime político, mais do que uma mera orientação sexual. É por isso que, para muitas de nós, a política lésbico feminista, mais do que uma política para o benefício próprio das lésbicas como uma identidade particular, tem sido uma política dirigida contra o avanço do patriarcado e a produção de sujeitos masculinos e femininos, na qual se sustenta. Entendemos por regime heterossexual, tal como propôs Wittig, o conjunto de discursos, instituições, mecanismos e práticas que organizam a vida social sobre a pretendida ideia da diferença sexual como algo natural ou dado, sobre o qual se funda toda sociedade ou comunidade. Para Wittig, a ideologia da diferença sexual instala a ideia da diferença entre os dois sexos, que tem efeitos não só no nível simbólico y na significação do mundo, senão efeitos materiais – econômicos e políticos – na vida de quem é definidos pela relação heterossexual como homens e mulheres. Para Wittig, a categoria de sexo, ainda que abstrata, produz materialidade à medida que define uma relação hierárquica e os sujeitos desta relação.
É interessante, no entanto, o que acontece com estas interpretações quando as submetemos a uma revisão crítica a partir das condições histórico-políticas que originam e possibilitam a experiência e a conformação da Abya Yala, enquanto um continente marcado pela ferida colonial e a colonialidade. A partir da radicalidade desta consciência, encontramos um problema general nestas teorias que foram produzidas na Europa e nos EUA, gozando de um privilégio de legitimidade e universalidade graças à maneira na qual, com a modernidade ocidental, estas regiões se instauraram como centros mundiais de produção de Verdade científica e objetiva. É importante dizer que a produção teórica feminista não escapou deste modelo de corte universalista, nem lésbico feminista, nem nenhuma tentativa de explicar a sexualidade, que foi em grande parte produzida nos centros hegemônicos de produção do conhecimento, de acordo com os mesmos padrões e a pretensão de generalização ao resto dos povos e culturas, sobre quais são as explicações e interpretações da experiência histórica do Ocidente, particularmente Europa. Entendemos que a experiência de pertencer a uma região que foi submetida ao extermínio sistemático, tanto material como simbólico, por meio do processo de colonização, sujeição, saque e exploração da população não é um dado menor que possa continuar sendo esquivado ou desconsiderado de uma teoria que explique a heterossexualidade como um regime e a diferença sexual como uma ideologia política que hoje funciona globalmente.
A diferença entre colonialismo e colonialidade
Antes de continuar, há uma diferença entre colonialismo e colonialidade, tal como estamos entendendo-os hoje na América Latina, que nós gostaríamos de explicar, já que, a nosso ver, nos ajuda a melhorar nossa interpretação do presente, permitindo superar uma perspectiva fragmentada da opressão para observar a maneira em que o racismo, o capitalismo neoliberal, a expansão e instalação do patriarcado e o regime heterossexual se codeterminam, de forma que é inadequada uma análise e uma política centrada em sua atuação separada, unívoca ou somatória.
Entendemos por colonialismo a política levada a cabo por algumas nações contra outros povos e/ou culturas, com o objetivo de subjugar, dominar, espoliar, subtrair seus bens naturais, culturais, materiais e simbólicos. O colonialismo implica em um país invasor, imperialista, e um/uns país/países dominado/s econômica, política, social e militarmente. O colonialismo está intimamente ligado ao surgimento e desenvolvimento do capitalismo e a uma economia de mercado, graças à qual ele conseguiu desenvolver-se e impor-se como uma perspectiva e um modelo econômico depredador, explorador e apropriador do excedente de mercadoria produzida pelos grupos e dos subjugados e escravizados pela empresa colonial, povos que foram inferiorizados como sem história, sem cultura, sem saber… gente não humana ou quase humana. Para várias teorias, o colonialismo e o capitalismo surgem conjuntamente desde o final do séc. XV com o chamado “descobrimento da América” e com a instalação e desenvolvimento de um comércio mundial de mercadorias e mão de obra gratuita escrava, que trabalha para a acumulação de riqueza das metrópoles.
São utilizadas as expressões neocolonialismo e neoliberalismo para expressar as formas atuais e as novas configurações que adotam o liberalismo econômico baseado no livre mercado (autorregulado de acordo com a lei do mais forte e mais dotado) e as formas contemporâneas de dominação dos países que surgiram depois dos processos de independência das regiões colonizadas. Como parte desta contemporaneidade, observamos situações específicas de dominação, exploração econômica e saque que vivemos nos nossos territórios. Estão relacionadas com os processos de marginalização e expulsão dos grandes grupos populacionais marginais que habitam as grandes cidades e centros urbanos; e com as novas tentativas de despojo e deslocamento forçado da população que tem vivido e resistido comunitariamente em territórios ancestrais fora do modelo dos estados-nação modernos. Hoje estas populações são submetidas a uma nova investida do Estado – e acordos com grupos econômicos transnacionais e o mercado –, que necessita destes territórios para instalar projetos de megamineração a céu aberto; privatizar as fontes de água potável; desenvolver a agricultura extensiva dependente de laboratórios que manipulam geneticamente as sementes e depredam, com sua cultura de maior lucro, todo o modelo anterior baseado em uma relação menos hierárquica entre o animal humano e o seu entorno.
A teoria feminista tem tentado demonstrar a relação entre colonialismo, capitalismo, patriarcado e regime heterossexual. Tentaram demonstrar a maneira com a qual o sistema capitalista se beneficia da divisão sexual do trabalho e do trabalho não assalariado das mulheres, que inclui tarefas reprodutivas e de cuidado que permitem assegurar a reprodução da força de trabalho e a raça. A partir de uma perspectiva materialista, a relação hierárquica do casal heterossexual homem-mulher é a que garante não só a dominação do par mulher, senão também a reprodução da força de trabalho e o capital. Para várias lésbicas feministas radicais, o lesbianismo se apresenta como uma relação não reprodutiva e, portanto, anticapitalista. Assim, autoras como Cheryl Clarke, lésbica feminista marxista e antirracista, pensam no lesbianismo como um ato de resistência, mostrando que este “tem toda a possibilidade de transtornar a heterossexualidade como um dos sistemas da opressão das mulheres, sempre e quando partir de uma visão antirracista e anticlassista”.
Desta maneira, nos últimos anos foi concebido o conceito de colonialidade para compreender a maneira pela qual o colonialismo não se refere somente a um momento histórico ou uma etapa do passado que parece ter sido superada com os processos de independência e de conformação dos Estados nacionais nos antigos territórios ocupados, mas remonta a um contínuo histórico cujos efeitos continuam no presente marcando nossa contemporaneidade. Tem a ver com a forma em que o processo de conquista e colonização configura um novo momento histórico liderado pela Europa, enquanto um lugar de onde emana a matriz de superação e progresso que deverá alcançar todo o grupo humano. Esta etapa ou momento histórico instala e desenvolve um padrão de poder baseado em uma classificação mundial e racial do trabalho, na qual a ideia de raça e hierarquia étnico-racial global atravessa todas as relações sociais existentes, instalando novos significados para o mundo e a vida. A partir deste momento, se inicia a configuração e a instalação progressiva de novas identidades baseadas nas novas classificações e relações sociais hierárquicas de poder, que se produzem dentro deste período, tais como índio-negro/branco, patrão/operário, mulher/homem, civilizado/bárbaro, letrado/iletrado, sujeito/objeto, humano/não-humano e normal/anormal. Este padrão de poder não se formou de repente e para sempre, mas tem sido aprofundado à medida que expande e avança a matriz moderna ocidental como o modelo a seguir, ao mesmo tempo em que se invalidam, destroem e destituem outros modelos de interpretação, organização e gerenciamento da vida em comunidade, mostrando-os como um passado a ser superado. Portanto, a colonialidade se refere não somente à maneira em que o poder atua de fora produzindo dominação, mas como o modelo instalado é ensinado e aprendido pelos grupos subjugados de forma que acabam assimilando-o e aceitando-o como válido. O importante já não é só poder ver a atuação dos opressores, mas como a sua perspectiva e o seu ideário é (re)produzido pelos grupos que foram submetidos.
Pensar a colonialidade é pensarmos em nós mesmas (homens e mulheres) e em como acabamos sendo o tipo de povo, nação, cidadã que este modelo espera. É fazer uma revisão de nós mesmas e das políticas que desenvolvemos, da perspectiva de mundo que temos, das ideias de bem e superação que reproduzimos. Implica em voltar a pensar o nosso passado em outra chave, procurando os espaços de resistência, de tensão, de agência, de ruptura com a ordem política e epistêmica imposta. Vemos que esse tempo e sua história de opressão/dominação não podem ser entidades em sua complexidade se não entendermos como a colonialidade o atravessa e as resistências o conformam.
Pensar a relação entre (neo)colonialismo, neoliberalismo , colonialidade, racismo e militarização e todas as outras formas de controle da violência por parte do Estado, junto com a heterossexualidade como regime político, nos leva à produção de uma nova consciência do presente, um passado-presente-futuro heterogêneo, na qual vivemos ao mesmo tempo em distintos tempos, preocupações e horizontes utópicos que marcam nossos sentidos e significados de boa vida. Implica em entender o processo histórico mediante o qual acabamos sendo quem somos, pensando como pensamos, agindo como agimos, desejando o que desejamos. Implica em desfazer as interpretações universalistas sobre a sexualidade, o sexo, o patriarcado, a identidade, o corpo, a natureza. (1)
Abordar estas questões é importante para o movimento de lésbica feministas comprometidas com uma luta não só contra o regime heterossexual como substancial a nossos interesses, mas contra a matriz de opressão em seu conjunto, à medida que é aí onde a heterossexualidade como perspectiva e tratamento particular do corpo (pensado como sexuado e natural), como produção do desejo sobre esse corpo, como ordem e organização do Estado e de suas instituições, se funda, se (re)localiza e caracteriza, indivisível e co-constituída pela ordem política, econômica e social que surge da expansão do capital, da sociedade burguesa liberal e do projeto moderno colonial em seu conjunto.
A reflexão que propomos neste X Encontro de Lésbicas Feministas da Abya Yala é produto dos aportes e tensões que tem existido ao longo da história da luta lesbofeminista. Uma luta que, o para o caso da América Latina, teve que ir construindo sua própria agenda centrada na sua realidade de exploração e colonialidade.
Posicionamentos lésbico feministas em relação às políticas neocoloniais e neoliberais
Várias pesquisadoras situam o auge do pensamento e da ação política lésbica, enquanto um movimento próprio, na Europa e nos EUA durante a década de 1970, enquadrada no que algumas chamam de Segunda Onda Feminista e pelos acontecimentos de Stonewall em 1969. Nesse sentido, cabe indicar que esse levantamento da voz política lésbica resultou da ruptura com ambos movimentos: tanto com o feminismo resistente às críticas sobre o regime heterossexual, como o movimento homossexual misógino e androcêntrico.
De acordo com Jules Falquet, dentro desse novo movimento surgirá o feminismo lésbico, o lesbianismo radical e o lesbianismo separatista. O feminismo lésbico se caracterizará por uma forte crítica ao regime heterossexual como norma que interpreta e impõe regras sobre as relações sociais e econômicas entre homens e mulheres. Por sua vez, o lesbianismo radical, cuja principal representante é a Monique Wittig, retoma para a sua análise o trabalho das feministas materialistas francesas e define a lésbica como uma fugitiva do sistema, à medida que rompe com as imposições estabelecidas pelo regime heteropatriarcal: a lésbica não trabalha, não ama, nem serve aos homens. Por último, a autora indica a existência de um lesbianismo separatista que buscava a criação de comunidades formadas só por lésbicas.
Cabe mencionar que estas vertentes caracterizadas por Falquet correspondem mais à experiência e história do lesbianismo feminista na Europa e nos EUA, pois, ainda que na América Latina pudéssemos encontrar as influências de cada uma dessas correntes, teríamos que enquadrá-las e historia-las unidas aos contextos locais, determinados pelas políticas imperialistas, as relações norte-sul e as histórias de resistências múltiplas que definem nossos movimentos identitários. Além disso, podemos observar que a preocupação ou a pergunta explícita pelas políticas colonialistas e os efeitos dos contextos geopolíticos, em geral tem sido recebido menor atenção nas análises e lutas contra o regime heterossexual, como si este atuasse de maneira independente e da mesma forma para todas as pessoas, independente de sua cultura, origem, raça e classe. Já havia uma intensa análise sobre a classe e a influência do capitalismo como organizador da vida social de homens e mulheres, mas esta não se relacionou com a geopolítica do capital, dos corpos e do racismo.
Paralelamente a estes movimentos que tem gozado de maior influencia e reconhecimento histórico, na década de 1970 e 1980 o Coletivo do Rio Combahee faz uma aposta pela compreensão da opressão de forma não fragmentada, fonte da opressão principal que praticavam e pensavam as correntes lésbicas analisadas acima. Nesta coletiva participavam mulheres e lésbicas negras e de cor comprometidas na luta contra o classismo, o sexismo e o racismo. Para estas ativistas não era possível entender a opressão de maneira separada, nesse sentido a luta contra a imposição heterossexual não passava por uma política exclusiva entre lésbica que analisam e combatem como subordinação principal a lesbofobia ou a normatividade heteropatriarcal, senão que se tratava de criar uma frente comum das subalternas unidas pela experiência de opressão pela raça, classe, gênero e sexualidade contra todos os sistemas maiores de subordinação; algo que as aproximava não só das mulheres negras e de cor norteamericanas, mas também às do terceiro mundo, como se expressa abertamente na sua declaração de 1977.
Na América Latina, também na década de 1970 e 1980, o nascente lesbofeminismo teria um lugar nas organizações de esquerda, ao mesmo tempo em que se relaciona com os movimentos pacifistas, ecologistas, hippie, os coletivos estudantis e, certamente, com o feminismo. De tal maneira que a luta não se circunscrevia a uma agenda contra o heteropatriarcado, mas se articulava com outras demandas, como as lutas contra as ditaduras repressivas e as políticas imperialistas dos EUA, assim como com demandas e acompanhamento dos movimentos urbanos populares, sindicais e operários.
Nos anos 1990, após a consolidação dos processos democráticos na região, ganha força o processo de ONGeização, e a agenda de segmentação das lutas em nome de uma política de identidade indicou um caminho separado, que levou a muitas lésbicas feministas a convocar um “quarto próprio” em termos não só da definição do sujeito político principal, mas também dos temas de centrais e da agenda, distanciando o compromisso com outras lutas sociais. Contra esta corrente majoritária, no entanto, a corrente feminista autônoma continuou aprofundando e articulando com os movimentos indígenas, antimilitaristas, de afrodescendentes, pelo direito à terra e anticapitalista, evidenciando que é possível pensar a luta feminista e lésbica em consonância com outras lutas. De fato, a crítica autônoma às políticas de desenvolvimento empreendidas pelos países do Norte, por meio das agências de cooperação internacional e ONGs, abrange sérias reflexões sobre as estratégias neocoloniais e neoliberais que estas acarretam e seu possível impacto na região. Críticas que se estenderam ao avanço do movimento da diversidade sexual e queer nesses territórios.
Atualmente, as lésbicas feministas que aderem a uma crítica antirracista decolonial realizam uma forte crítica à colonialidade do poder e do saber, como forma de compreender a organizar a vida social, política e econômica da região, evidenciando o problema da dependência ideológica e epistêmica dos chamados países do terceiro mundo com os países imperialistas, assim como a relação entre as políticas neoliberais e as formas de organização social e política baseadas no modelo democrático formal. Elas nos mostram a colonialidade das categorias identitárias com as quais contamos – como mulher, homem, lésbica, gay, trans… – que são, em muitos casos, construções próprias da experiência histórica do Ocidente que, na sua tentativa de universalização, negam a possibilidade de existência de outras experiências históricas de pensar, dar significado e viver a sexualidade e a identidade pessoal. Com essa crítica, começamos a romper com a ideia de que todo modelo não pertencente à matriz moderna sempre é o passado da humanidade, e que todo passado sempre foi pior o algo a ser superado. Questiona-se a relação entre nossos projetos emancipatórios, as apostas de futuro que temos perseguido e o modelo branco liberal burguês, expressado e contido nas ideias de um progresso apoiado na sociedade e uma liberação sexual sem comparação na história da humanidade. Finalmente, nos tornamos conscientes de como todo esse ideário constrói uma versão de sujeito ou pessoa cujo horizonte de realização obedece, no fim das contas, ao relato produzido pela empresa colonizadora da modernidade ocidental. A reflexão decolonial analisa o sujeito mulher e o sujeito lésbica no cenário das relações norte-sul, onde as políticas neoliberais e neocoloniais apontam para a prescindibilidade e a exploração de alguns corpos (negros e indígenas), ao mesmo tempo em que os coloniza e tenta disciplinar.
Algumas perguntas para o debate:
1) Como uma posição antirracista e decolonial afeta a nossa análise do regime heterossexual? O que fica intacto? Ou só adicionamos uma luta simultânea conta a opressão racial?
2) Se partirmos da ideia de que a colonialidade impregna tudo e a classificação racial também, podemos seguir pensando em um regime heterossexual atuando universalmente contra um sujeito universal também, a lésbica (o “dissidente sexual”, qualquer que seja)? E de que maneira isso afeta as nossas lutas? De que maneira afeta o “nós”? De que maneira redefine as políticas de aliança e coalizão? De que forma afeta “o inimigo” a combater?
3) De que maneira as políticas dos movimentos de dissidência sexual, e particularmente, das lésbicas feministas, tem contribuído com as políticas imperialistas e os processos de ocidentalização? Como nós, lésbicas feministas antirracistas, nos posicionamos frente a essas políticas?
4) O que é fazer política lésbica feminista em contextos de exploração econômica e em comunidades mais vulneráveis? Como seria na Amazônia, em uma comunidade autônoma de Chiapas?
5) Como se transforma a ideia de um feminismo radical dentro de contextos assim? E o que isso tem a ver com as políticas de lésbicas feministas na Abya Yala?
6) De que maneira os contextos locais definem, limitam ou potencializam a ação lésbico feminista?
7) Como se redefinem os imaginários, os horizontes de utopia, a partir de posições antirracistas e decoloniais?
8) Como repensar as estéticas lésbicas – estéticas butch, queer, femme, caminhoneira, sapatona – de ascendência afro ou indígena em diferentes contextos: urbano-populares, classe média, rural, semi-rural, a partir de posições antirracistas e decoloniais?
9) De que maneira relacionamos tudo isso com o nosso entorno e com a recuperação da preocupação pela “comunidade” ou pelo “comunitário”? De que maneira esse interesse por restabelecer o valor e o sentido do comunal choca e nos faz questionar a aposta da radicalidade lésbica feminista? Quais desafios nos colocamos ao colocar essas visões em tensão? Como resolvemos?
Notas:
(1) Entendemos o Neliberalismo como o modelo econômico desenvolvido ao final da década de 50 e começo de 60, implantado na América Latina desde o final de 80. Basicamente estabelece o Mercado como o centro regulador da vida econômica, política e social. Para os Neoliberais, é necessário reduzir os custos sociais do Estado, ou seja, cortar os “gastos” públicos com saúde e educação, não mais direitos, senão serviços; privatizar os recursos naturais e sua exploração (Megamineração e usurpação de territórios ancestrais); flexibilizar o emprego, o que acarreta a perda da estabilidade e cortes nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e, sem dúvidas, estimular tratados de livre comércio que pressupõe uma nova divisão internacional do trabalho, pilar dos processos de globalização.